Nota: 4,5
(Nota de 0 a 5)

Rogue One é uma aventura emocionante, saudosista e divertida do universo Star Wars. Escrita por Chris Weitz e Tony Gilroy e dirigida pelo britânico Gareth Edwards; ela parece estar localizada exatamente no mesmo tempo que essa grande saga começou. A ação se passa entre o Episódio III: A Vingança dos Sith e o Episódio IV, Uma Nova Esperança. Portanto, é um misto de prequel com déjà vu. Raças alienígenas, confrontos míticos, mensagens de holograma desesperadas, personagens novos e outros muitos antigos, pipocam na tela fazendo os iniciantes conhecerem novas nuances da saga clássica e os fãs de carteirinhas surtarem com os constantes fãs services. Como os filmes de super-heróis ou westerns, Star Wars inventou seu próprio gênero de cinema e encontrou um grande nicho de mercado, já explorado anteriormente pelos livros, gibis e jogos do universo.
Rogue One não é um episódio completo, é na verdade uma história auxiliar, paralela, um ramo do cânone, mas que apesar disso, pode ser apreciado como uma projeção elegante, facilmente sendo aceita como uma aventura dentro da cronologia oficial. Felicity Jones interpreta Jyn Erso, uma rebelde corajosa e fugitiva que é a filha de Galen Erso (Mads Mikkelsen), um verdadeiro Oppenheimer, que está por trás dos planos para a nova e aterrorizante arma do Império: a “Estrela da Morte”. Pai e filha sofreram um terrível trauma ao serem separados quando ela era ainda uma criança; Jyn foi então criada pelo extremista rebelde e dissidente Saw Gerrera (Forest Whitaker), enquanto Galen seguiu trabalhando para o Império Intergalático, sob a tutela do fanático Krennic (Ben Mendelsohn).
Quando Jyn se vê destinada a roubar os planos da Estrela da Morte e comandar uma nave rebelde, denominada Rogue One, ela se uni a outro insurgente, Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, em uma desesperada missão de infiltração. Rogue One não é a grande “invenção da roda” para a Saga Intergalática, não é um evento da cultura pop como foi “O Despertar da Força”, nem muito menos é um episódio que corrige a trilogia clássica; a grande força desse episódio está no universo anteriormente criado. Parte do seu encanto reside na sensação de estranhamento, quase sonhadora, de se perceber depois de mais de 30 anos de volta aos anos 80, uma vez que ele consegue com maestria reproduzir os elementos familiares que cativaram milhões de fãs ao longo desse tempo, reformulando e reconfigurando o passado, ainda que seu final seja predeterminado. Há alguns easter-eggs verdadeiramente espectaculares de personagens muito amados, envolvendo efeitos digitais capazes de ressuscitar atores falecidos (Peter Cushing) ou mesmo rejuvenescer outros (Carrie Fisher). A sensação final é que entramos em uma máquina do tempo, de volta aos anos 80 e 70. O roteiro tem ainda o mérito de abordar novos apectos da Estrela da Morte, superando a superficialidade encontrada em sua abordagem na trilogia clássica, demonstrando seu potencial de destruição. O que antes era uma calamidade quase abstrata; agora é um perigo real que assusta e oprime todos aqueles que se opoem ao Imperio. A nova abordagem faz luz a uma reflexão séria que é diante da catástrofe a necessidade dos sacrifícios pessoais necessários para impedi-la. O único deslize de Gareth Edwards, talvez esteja na direção da construção de seus personagens, que devido ao tempo determinado pela edição do filme parece juntar personagens cativantes de forma muito rápida e sem muita coesão. Ao final Rogue One é aquele tipo de filme que aquece o coração e que mantem a magia da saga viva. Estavamos com saudades de Darth Vader, suas aparições, no filme, são asfixiantes, e demonstram que o Despertar da Força ainda precisa encontrar verdadeiramente um novo vilão, uma vez que o vazio criado pela ausência de Vader, poder ser confirmado ao vermos a cena final do personagem em Rogue One. Salve Vader!




















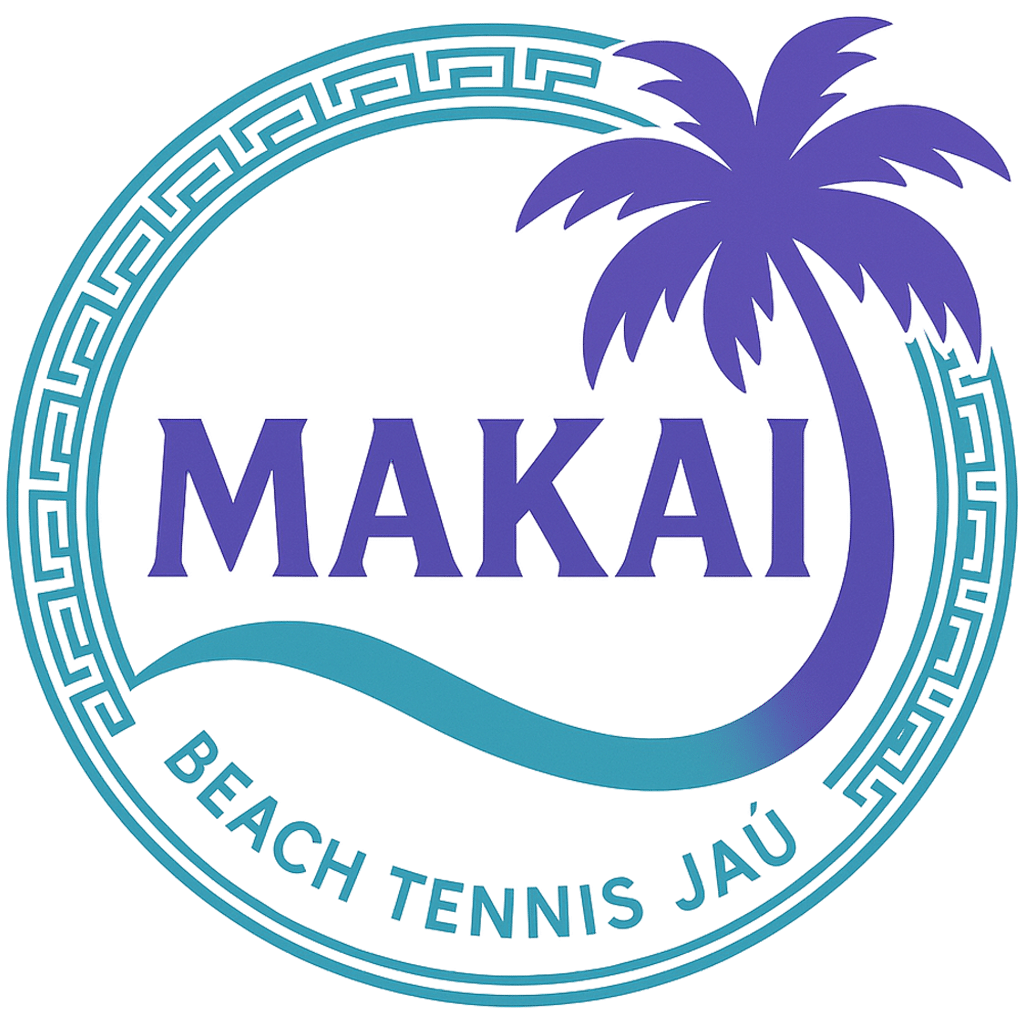
 4 quadras de Beach Tennis (em breve +2)
4 quadras de Beach Tennis (em breve +2) Aulas & Aluguel de Quadras
Aulas & Aluguel de Quadras Day Use aos Finais de Semana
Day Use aos Finais de Semana